José de Anchieta (1534 - 1597)
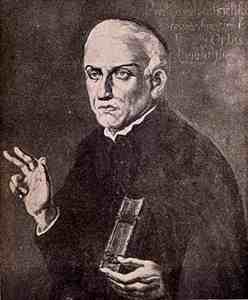
Nascido no ano de 1534 em
Tenerife, Ilhas Canárias (arquipélago Espanhol). Filho de mãe judia,
mudou-se para Coimbra, em Portugal, aos 14 anos a fim de receber sua
formação intelectual longe dos domínios espanhóis em função da
perseguição do Tribunal do Santo Ofício. Aos 17 anos ingressou na
Companhia de Jesus, cuja principal missão era a difusão do cristianismo
no então recém descoberto continente americano.
Temendo por sua saúde, seu superior enviou-o ao Brasil, por acreditar que os ares do novo continente seriam benignos para o padre. Ao chegar em terras brasileiras, foi acolhido pelo padre Manoel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica na América, que já se instalara em São Vicente. Anchieta veio ao Brasil na armada de Duarte Góis que trazia consigo Duarte da Costa (1553-1558), o segundo governador-geral do Brasil.
Temendo por sua saúde, seu superior enviou-o ao Brasil, por acreditar que os ares do novo continente seriam benignos para o padre. Ao chegar em terras brasileiras, foi acolhido pelo padre Manoel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica na América, que já se instalara em São Vicente. Anchieta veio ao Brasil na armada de Duarte Góis que trazia consigo Duarte da Costa (1553-1558), o segundo governador-geral do Brasil.
Os primeiros jesuítas que
se instalaram, ainda durante o governo de Tomé de Sousa (1549-1553),
foram responsáveis pela fundação do primeiro colégio estabelecido no
Brasil, em Salvador. Mais tarde, em 1554, Anchieta participou da
fundação do Colégio São Paulo, no Planalto de Piratininga, região onde atualmente se encontra a cidade de São Paulo.
Em 1563, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega participaram do conflito conhecido como a Confederação dos Tamoios
como mediadores da paz entre os portugueses e os índios tamoios que
ameaçavam a segurança da região. Anchieta foi feito refém dos índios de
Iperoig (região onde se encontra a cidade de Ubatuba) e lá permaneceu
durante cinco meses. O episódio gerou o primeiro tratado de paz entre
colonizadores e indígenas, graças às intervenções de Nóbrega e Anchieta e
dos acordos entre os padres e os líderes indígenas e ficou conhecido
como a Paz de Iperoig, evitando que os índios, enfurecidos, destruíssem
as cidades e as vilas portuguesas.
Compôs o Poema à Virgem,
poema de 4.172 versos, enquanto estava no cativeiro dos tamoios e, diz a
lenda, que o havia escrito nas areias da praia e que, graças a sua
memória excepcional, somente mais tarde teria transcrito o poema para o
papel.
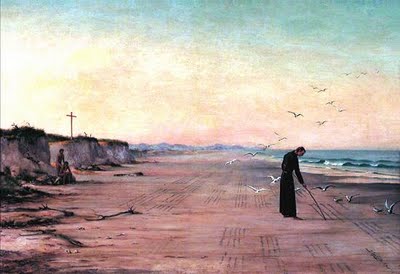
Tela de Benedito Calixto de Jesus (1853-1927) em que retrata Anchieta escrevendo seus poemas na areia
Em 1566, Anchieta é ordenado
sacerdote e em 1569 funda o povoamento de Reritiba, localizado no estado
do Espírito Santo. Nesse mesmo período, dirige, durante alguns anos, o
colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro. Em 1577, Anchieta foi promovido a
Provincial, maior cargo da Companhia de Jesus da época, sucedendo o
padre Manuel da Nóbrega (falecido no ano de 1570), viajando pelo país e
orientando as missões ao longo do território brasileiro.
Falece no ano de 1597 em
Reritiba, cidade posteriormente renomeada de Anchieta. O padre ficou
conhecido como “o apóstolo do Novo Mundo” por levar adiante a missão de
evangelização dos gentios e pelos serviços prestados à Companhia de
Jesus no continente americano.
Sua vida serviu de
inspiração para que muitos artistas retratassem diversos episódios em
forma de telas como, por exemplo, a missa rezada em ocasião da fundação
do colégio São Paulo, a marcha realizada do litoral até a cidade de
Vitória em decorrência de um naufrágio, entre outros. No ano de 1980,
Anchieta foi beatificado pelo papa João Paulo II, pois, segundo
investigação histórica conduzida pelo Vaticano, o padre operou o milagre
da conversão de três indivíduos ao cristianismo de uma vez.
Obras
As principais obras do jesuíta
estão divididas entre poemas, peças de teatro, sermões e, claro, na
elaboração de uma gramática que facilitasse o ensino e o aprendizado da
religião pelos indígenas. Seus poemas, carregados de
subjetividade, mostram um Anchieta empenhado no louvor à religião
católica, na busca pelo consolo das adversidades da vida que é
encontrado apenas por meio da entrega e do amor divino e, claro, na vida
dos santos.
Suas peças de teatro
(autos), de cunho pedagógico, são voltadas para a catequização dos
indígenas, escritos ora em português, ora em tupi, transformando o
imaginário e os costumes daquelas sociedades “pagãs” em entidades “do
Mal”, contrárias às imagens do cristianismo, que representam “o Bem”,
criando dois pólos de oposição entre os dois mundos. Na Festa de São
Lourenço é considerado seu auto mais importante, pois, embora não haja
uma unidade narrativa nos quatro atos que o compõe, há a descrição de
cenas da vida nativa e demais aspectos da vida dos indígenas.
Suas principais publicações são O De Gestis Mendi de Saa,
impresso em 1563, poema épico em homenagem ao governador Mem de Sá que
chefiou os primeiros levantes contra os franceses que invadiram as
colônias portuguesas. É considerado o primeiro poema épico da América e
anterior ao “Os Lusíadas” de Luís de Camões. No entanto, críticos e
antropólogos contemporâneos chamam a atenção para o aspecto da violência
contida no poema que, segundo a visão dos jesuítas, legitimaria a
conquista, a subordinação e o extermínio dos indígenas em face de um
objetivo “maior”, a evangelização, assemelhando-se às cruzadas
medievais. Além disso, o imaginário pagão dos indígenas é considerado
diabólico e seus rituais, principalmente o antropofágico, são vistos
como algo bestial e animalesco, desprovido de significação cultural.
Logo, o texto mostra, acima de tudo, que a vinda dos jesuítas, embora
com objetivos diferentes dos conquistadores de terras, também se deu de
maneira violenta, de um povo sobre outro e que a instalação dos redutos
missionários não foi tão pacífica como se supunha, expondo as chagas da
história brasileira; e A arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, impresso em 1595, constitui-se no primeiro registro dos fundamentos da língua tupi.
Bibliografia:
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006.
GINZBURG, Jaime. A origem
como inferno (a representação da guerra na poesia de José de Anchieta).
In: BERND, Zilá. CAMPOS, Maria do Carmo (orgs). Literatura e americanidade. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995.
Nenhum comentário:
Postar um comentário